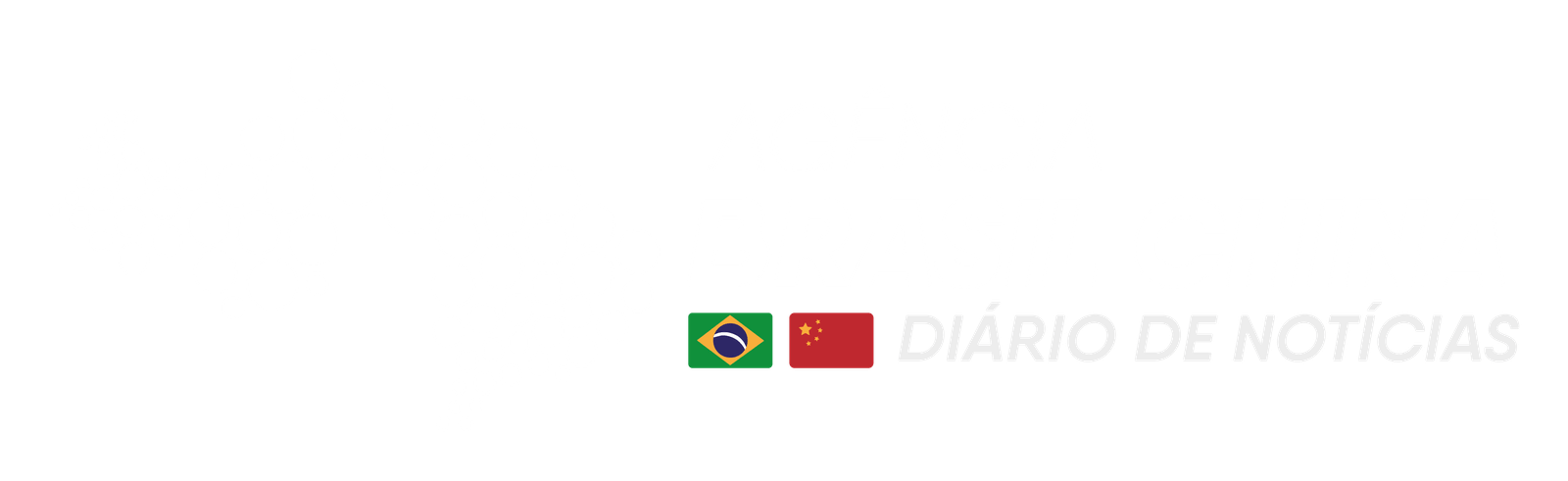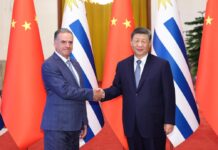Edward Said, em A questão da Palestina, fala em uma “guerra semiótica” mobilizada contra os palestinos, as suas instituições e os seus representantes, um esforço constante de difamação que procura associar a qualquer manifestação de solidariedade à causa palestina palavras como “terrorismo” ou “antissemitismo”.
Nessa dinâmica, enquanto qualquer apoiador da causa palestina vê-se de saída obrigado a traçar mil e uma justificativas antecipadas – a fim de garantir, antes mesmo de se engajar em qualquer debate, que não é, afinal, antissemita -, não se exige nada do tipo de Israel e dos defensores do sionismo.
Nenhum sionista abre as suas colocações com declarações como “eu não sou islamofóbico ou racista anti-árabe, minhas posições contra determinados regimes e grupos políticos não podem ser confundidos ou tomados por essencializações de cunho racista, por favor não tomemos uma crítica à Autoridade Palestina como uma crítica a todo o mundo árabe e islâmico”. Tal cena simplesmente não acontece.
Diante do caráter cada vez mais indefensável das políticas israelenses em relação ao território da Palestina e seus habitantes durante o massacre que observamos em Gaza, os apoiadores de Israel insistem em desqualificar qualquer crítica direcionada a elas como manifestação antissemita.
Como apontam, entre outros, Said e a filósofa judia Judith Butler, a equiparação perniciosa do antissionismo ao antissemitismo torna qualquer crítico de Israel, que se autoproclama o legítimo representante de todo o povo judeu, imediatamente suspeito.
É contra tal fagocitação identitária que Butler escreveu o livro Caminhos Divergentes: Judaicidade e Crítica ao Sionismo. Seu argumento central é costurado a partir do imperativo ético de, enquanto intelectual judia comprometida com ideais de justiça e convivência com o Outro, desvencilhar-se da equiparação da crítica a Israel ao antissemitismo. Escreve Butler (página 17 do seu livro):
“Diante do caráter cada vez mais indefensável das políticas israelenses em relação ao território da Palestina e seus habitantes durante o massacre que observamos em Gaza, os apoiadores de Israel insistem em desqualificar qualquer crítica direcionada a elas como manifestação antissemita.”
A autora destaca ainda que a produção de uma coincidência entre a identidade judaica e o sionismo não foi natural nem espontânea, e sim resultado de esforços deliberados nos quais a máquina estatal israelense se empenha com afinco. Em momentos como o atual, desembarcam no Brasil diversos missionários de Israel, conhecido como schilim, para reafirmar a fé dos judeus no sionismo e em Israel e ensiná-los a reproduzir a hasbara, isto é, a propaganda oficial do Estado.
Para além da dedicação em fazer coincidir a identidade judaica global com a identidade nacional israelense, o sionismo projeta um sentido específico para essa identidade.
O sociólogo israelense Eviatar Zerubavel destaca narrativa israelense é pontuada por episódios históricos de perseguição aos judeus, de modo que o medo constantemente reiterado de novas violências tornou-se um dos alicerces da identidade nacional. Como aponta o autor, ser judeu e crescer em Israel significa ser “socializado na tradição sionista de narrar a história dos judeus da Europa exclusivamente em termos de perseguição e vitimização”.
Assim, a história que qualquer judeu israelense saberá contar sobre o passado nacional é a história de uma perseguição milenar aos judeus enquanto povo que, portanto, se iniciou muito antes do estabelecimento do Estado e poderia se perpetuar indefinidamente.
Essa narrativa nacional, que é deliberadamente veiculada transnacionalmente por projetos pedagógicos sionistas e pela propaganda oficial israelense no mundo todo, aparece nos mais diferentes espaços: no sistema educacional público, no estabelecimento de museus e memoriais e no próprio calendário nacional.
A narrativa sionista reafirma a condição de vítima de uma perseguição imemorial que se repetiu ininterruptamente ao longo de mais de dois mil anos, até alcançar seu ápice com a tragédia do Holocausto. Mais do que isso, sublinha que a salvação após a tragédia só foi (e é) possível através do sacrifício de inúmeras pessoas que se dispõem a lutar e a morrer em nome do seu povo e, acima de tudo, do estabelecimento do Estado de Israel como um Estado Judeu.
É assim que a manutenção do “caráter judeu do Estado” — traduzido como uma maioria demográfica judaica no território — torna-se um problema de segurança nacional e uma necessidade que não pode ser questionada em sua premissa etnocrática nem pelos mais “progressistas” dos sionistas.
O ponto central dessa exposição não é questionar a veracidade dos muitos episódios de perseguição aos judeus ao longo da história, não estamos aqui engajados em revisionismo ou relativismo histórico. E sim em refletir sobre os efeitos da construção de uma identidade nacional judaica a partir do medo; um medo que é projetado uma e outra vez sobre um passado rico em episódios que podem ser arbitrariamente resgatados de modo a legitimar uma autoimagem sionista centrada no lugar da vítima.
Tal construção identitária é mobilizada para produzir, como aponta Butler (p. 29), argumentos que legitimam “um aparelho estatal e uma ocupação colonial militarizada, para construir um sentido de direito de posse nacionalista e para renomear todos os atos de agressão militar como auto-defesa necessária”.
O próprio nome do Exército de Israel — Forças de Defesa Israelense — projeta com sucesso o lugar das vítimas, reforçando a narrativa de que quando o Estado ataca, ocupa e bombardeia, é apenas para garantir a sua defesa. Essa é a narrativa por trás do “direito de defesa de Israel”, que apesar de ser assegurado a qualquer Estado segundo o direito internacional, é instrumentalizado para justificar a agressão assimétrica contra a resistência palestina.
A mobilização da condição de vítimas, por outro lado, funciona também como justificativa externa. A narrativa de vítimas incontestes da História é fundamental na medida em que constrange muitos países a um apoio quase automático a Israel e críticas bastante tímidas.
Por trás desse argumento está o pressuposto de que os sofrimentos dos judeus só puderam e poderão ser remediados com a fundação de um Estado Judeu. E qualquer questionamento tanto das suas premissas como de suas políticas será lido como novo ataque aos judeus, por serem judeus, e portanto como uma nova face mal disfarçada do antissemitismo. Mas, como aponta o palestino Mohamed el-Kurd, os palestinos não tem culpa que os seus ocupantes são judeus.
Falar do sionismo e de Israel é tratar, por um lado, de um movimento político que, quaisquer que sejam suas vertentes teóricas e disputas internas, realizou-se historicamente como um Estado colonial. Não estamos nos referindo aos judeus de forma coletiva e abstrata, mas um Estado que assegura privilégios aos seus cidadãos judeus.
Assim, o sentido do sionismo não é questão de preferência, idealização ou vontade pessoal. Não é possível aceitar o enunciado, tão prevalente em especial nos círculos que se autointitulam “sionistas de esquerda”, de que “para mim o sionismo significa isto ou aquilo”. O significado prático do sionismo está historicamente posto na Palestina de uma maneira nada especulativa, especialmente para os habitantes nativos do território, enquanto um processo colonial.
É nesse sentido que Said (p. 92) adverte que “independentemente do que o sionismo tenha feito pelos judeus, ele vislumbrava a Palestina do mesmo modo que o imperialista europeu: um território vazio, paradoxalmente ‘repleto’ de nativos ignóbeis ou talvez dispensáveis”.
Na constituição de um Estado soberano judeu, erigiu-se um mundo no qual a desigualdade entre judeus e não judeus não é apenas aceita, mas constitui um princípio estruturante. “Há um sionismo e uma Israel para os judeus e um sionismo e uma Israel para os não judeus”, escreve Said (p. 124), acrescentando que “o sionismo traçou uma linha clara entre os judeus e os não judeus; Israel construiu todo um sistema para mantê-los separados, inclusive os tão admirados (e segregacionistas) kibutzim, dos quais os árabes nunca fizeram parte”.
O sionismo e o colonialismo europeu encontram-se precisamente no apagamento da presença nativa na Palestina e na representação do território como “vazio”. É este encontro, que aconteceu a despeito do fato de ter coincidido com uma época de virulento antissemitismo no Ocidente, que produz muitos dos consensos perniciosos que contaminam os debates sobre o tema até hoje.
“O significado prático do sionismo está historicamente posto na Palestina de uma maneira nada especulativa, especialmente para os habitantes nativos do território, enquanto um processo colonial.”
Assim, é bastante pertinente a definição de sionismo de Said do ponto de vista das suas vítimas, os palestinos (p. 57): uma “forma de perpetuar um sistema político, jurídico e epistemológico, cujo objetivo imediato, constantemente renovado e de longo prazo é manter a distância a Palestina e os palestinos”.
Este é o resultado material do sionismo realmente existente na Palestina. Equiparar a crítica a políticas estatais a manifestações antissemitas tem como objetivo o estrangulamento do campo contestador. Até mesmo os críticos de origem judaica, como Butler, passam a ser vistos como traidores e perigosas ameaças internas.
O problema central é como a judaicidade é compreendida e sustentada pelo Estado de Israel como lastro de um pertencimento étnico e fundamento para uma discriminação em relação aos não judeus no território da Palestina. A negação palestina não é, afinal, um mero detalhe ou acidente de percurso na história de Israel, e sim, como aponta Edward Said (p. 93), a “linha mais consistente que atravessa o sionismo”.
* Nina Galvão é mestra pelo programa Diversitas da USP e doutoranda em História pela UFRJ. Pesquisa a memória na Questão Palestina.
* Bruno Huberman é professor de Relações Internacionais da PUC-SP. É mestre e doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas (Unesp/Unicamp/PUC-SP). Pesquisa a economia política da colonização israelense da Palestina.
** Este artigo não reflete, necessariamente, a opinião da Revista Fórum