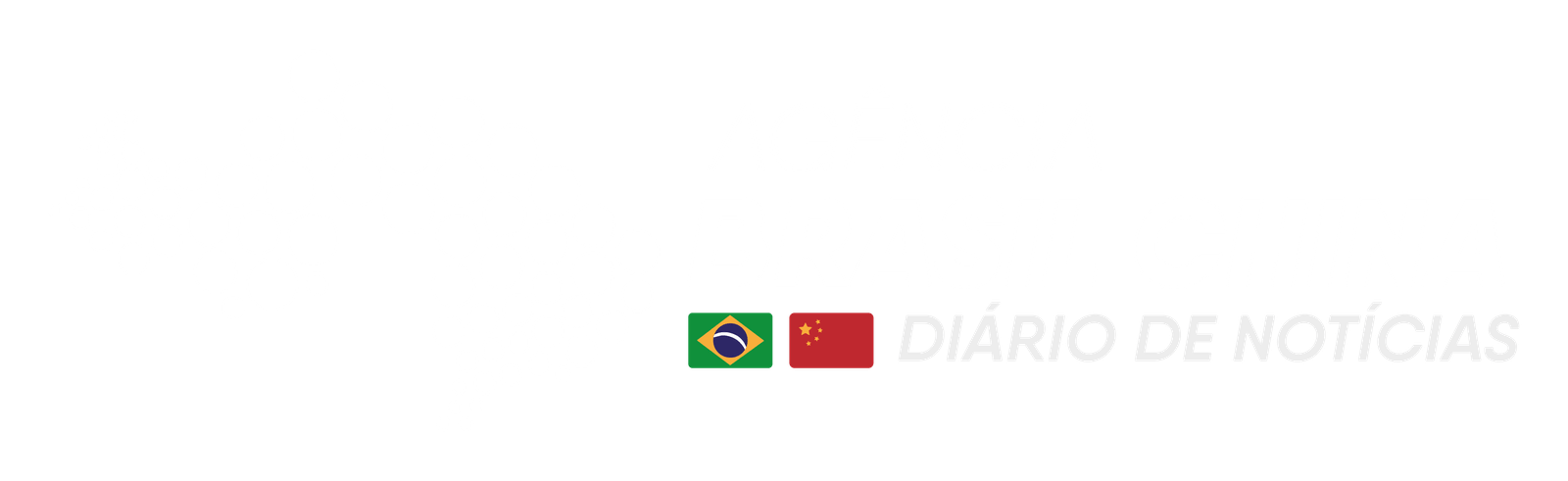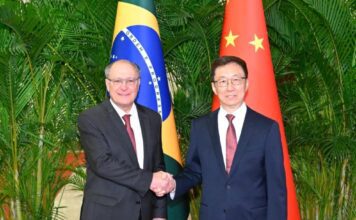Já desde antes da 15ª Cúpula do Brics, boa parte dos analistas da mídia hegemônica internacional e nacional apresentava uma possível expansão do grupo como de interesse majoritário da China. A realidade é que sim, a China era um dos países mais interessados na expansão, o que não significa que era o único, nem que o crescimento do grupo representará benefícios exclusivos ou majoritários para o país asiático. Com a incorporação da Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, uma grande parte da mídia, nos corredores e nas matérias de análise da 15ª Cúpula concluíram que os resultados foram uma vitória para a China.
Em geral, acompanhando conscientemente ou não a estratégia dos Estados Unidos de desacreditar ou atacar o governo chinês ou o Partido Comunista da China, essas análises sofrem, como de costume, de maniqueísmo e falta de informação sobre a diplomacia chinesa.
Na América Latina, a visão sobre a China é produzida pelos governos, pelo capital e seus braços comunicacionais do Norte Global. Isso não acontece apenas com regiões geograficamente distantes, mas com nossos próprios vizinhos. A Folha de S.Paulo, por exemplo, decidiu editorialmente classificar o governo venezuelano de Nicolás Maduro como “ditadura”, em um movimento que ajudou a fechar fileiras entre as mídias com maior poder no Brasil e disseminar essa ideia no imaginário popular como uma realidade fora de questão.
Mitos e a típica condescendência em relação à África
Um dos argumentos mais veiculados foi que, ao expandir o Brics, a China conseguiria aumentar sua “influência” sobre os países africanos. Este é um dos principais mitos: a China não se tornou a segunda economia do mundo e levou a cabo seus avanços das últimas décadas por conta do Brics. Da mesma forma, o Brics não é uma plataforma orientada para o fortalecimento da China, que também não depende do grupo para construir sua relação com os países africanos. Além disso, diferentemente de relações coloniais, construção de relação entre países e povos nem sempre é sinônimo de influência, muito menos de domínio.
Há 13 anos seguidos, a China é o maior parceiro comercial da África. O volume do comércio entre o continente e o país asiático superou os 260 bilhões de dólares em 2022. As duas partes têm, desde 2000, uma plataforma de coordenação política, o Fórum de Cooperação China-África, guiado pelos chamados Cinco Princípios da Coexistência Pacífica: respeito mútuo pela soberania e integridade territorial, não agressão mútua, não interferência nos assuntos internos uns dos outros, igualdade e benefício mútuo, e coexistência pacífica.
A visão de que a China terá mais poder em um Brics expandido, por um lado, atribui intenções de benefícios próprios, apresentadas de maneira autoexplicativa; por outro, ignora que a China constrói sua inserção internacional também por si mesma.
Para a surpresa de todos, a China foi quem contribuiu para o restabelecimento das relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita, em abril deste ano. É evidente que a paz e a estabilidade na região são do interesse chinês, que possui com ambos os países relações comerciais fundamentais. Mas não entender esse acordo como benéfico para todas as partes, e sim como um aumento do tipo de poder geopolítico ao qual estamos acostumados a ver, protagonizado principalmente pelos EUA, é ser, no mínimo, injusto.
Outro problema aqui é também a recorrente atitude paternalista do Ocidente em relação ao continente africano. A ideia de “crescente influência” da China na África pressupõe que os países africanos não têm autonomia ou capacidade de fazer as suas próprias escolhas em função dos seus interesses e histórias. Isso é o que ocorre com o argumento da “armadilha da dívida”, uma das principais frentes anti-China que vêm da Europa e Eestados Unidos. Até uma parte do progressismo na América Latina começou a se preocupar com o problema da dívida externa na África, quando isso começou a ser pautado pelo Norte Global.
Segundo o argumento da “diplomacia da armadilha da dívida” chinesa, o país estaria utilizando os empréstimos a países africanos para se apoderar de recursos estratégicos quando eles não puderem pagar as dívidas. Mas esse argumento não tem evidências que a sustentem.
A organização Justiça da Dívida mostrou, com base em dados do Banco Mundial, que os governos africanos devem três vezes mais aos bancos ocidentais, gestores de ativos e setor do petróleo do que à China. Segundo o levantamento, apenas 12% da dívida externa dos governos africanos é devida a credores chineses, em comparação com 35% devida a credores privados do Ocidente. Além disso, a organização mostra que estes ainda cobram o dobro de juros que os credores da China.
Em um relatório publicado em abril deste ano, a Iniciativa de Investigação China-África (IICA) da Universidade Johns Hopkins mostrou que, como parte da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (ISSD) do G20 em função da covid-19, a China contribuiu com 63% dessas suspensões, apesar de deter apenas 30%.
Como dito, as denúncias sobre a dívida em relação à China ou inclusive sobre “neocolonialismo” costumam vir do Norte. É no mínimo irônico que os países historicamente responsáveis por espoliar o continente africano se tornem os principais porta-vozes das denúncias dos supostos problemas causados pela China.
O embaixador de Ruanda na China, James Kimonyo, diz que a acusação de que a Nova Rota da Seda é uma armadilha da dívida é “muito ridícula”: “o que é a ‘armadilha da dívida’? A armadilha deveria ser algo oculto, sobre a qual você não tem conhecimento. Mas os projetos implementados na Ruanda no âmbito desta iniciativa são negociados entre os governos do Ruanda e da China”.
Já o mandatário sul-africano, Cyril Ramaphosa, que acaba de ser o anfitrião da 15ª Cúpula do Brics, disse após a Cúpula Rússia-África realizada em 2019, que o que vem ocorrendo é um “reequilíbrio dramático” da relação entre as economias avançadas do mundo e o continente africano e que “a África já não quer ser receptor passivo de ajuda externa”.
A demonização da política quando é feita pelo Sul Global
Não parece ser um problema para ninguém da mídia hegemônica que o G7, em sua última cúpula, tenha decidido iniciar uma estratégia de redução de riscos (“de-risking”) na relação com a China – porque os Estados Unidos não conseguiram emplacar sua desassociação (“decoupling”). Não se lê críticas sobre a politização do G7. Em troca, há uma preocupação crescente com a “politização” ou até “ideologização” dos BRICS, entre analistas da mídia e inclusive professores universitários no Brasil.
Em primeiro lugar, em essência não há quaisquer diferenças entre a Declaração de Joanesburgo e a de Ecaterimbugo, onde foi realizada a primeira cúpula do grupo em 2009. Algumas das afirmações da declaração em 2009:
- “As economias emergentes e em desenvolvimento devem ter maior voz e representação nas instituições financeiras internacionais”;
- “Destacamos o nosso apoio a uma ordem mundial multipolar mais democrática e justa”;
- “Estamos prontos para um diálogo construtivo sobre como lidar com as alterações climáticas com base no princípio da responsabilidade comum mas diferenciada”
- “Os países desenvolvidos devem cumprir seu compromisso de 0,7% da Renda Nacional Bruta para a Assistência Oficial ao Desenvolvimento e fazer mais esforços para aumentar a assistência, o alívio da dívida, o acesso ao mercado e a transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento”.
A declaração recente é muito mais detalhada, mas de maneira alguma representa um giro em comparação com as perspectivas que orientaram a formação do Brics. Em segundo lugar, não é possível que analistas pretendam que as declarações de grupos como o BRICS seja apolítica e isenta de ideologia. É uma pena ter que afirmá-lo, mas um grupo econômico é um grupo político. O Fórum Econômico de Davos é um espaço político. Nele, em 2005, o presidente Lula foi censurado durante um debate sobre estratégias de combate à pobreza, quando mencionou que vinha de participar do Fórum Social Mundial de Porto Alegre.
Debater modelos de desenvolvimento, de modernização e de cooperação é fazer política, o que não significa que os países se encontrem alinhados ideologicamente. Inclusive o grupo se diversificou mais do que se homogeneizar nesse sentido.
Os avanços na cúpula
A expansão dos Brics e o estabelecimento de critérios para o ingresso de mais países fortalecem as reivindicações de interesse dos países do Sul Global, em particular as que estiveram no centro desta última cúpula: mudanças nas estruturas de governança global e desdolarização.
Em julho passado, o Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgou uma análise diante da maior valorização do dólar estadunidense em 20 anos, ocorrida em 2022. No relatório, a instituição afirma que para as “economias emergentes”, “uma valorização de 10% do dólar, ligada às forças do mercado financeiro global, reduz a produção econômica em 1,9% após um ano, e este obstáculo perdura por dois anos e meio”.
Os países que vinham apresentando mais interesse na pauta de desdolarização, por exemplo, são Brasil e Rússia. Foi Lula quem colocou a questão em nível internacional já logo no começo do terceiro mandato, na cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento. Ao questionar “por que todos os países estão obrigados a fazerem seu comércio lastreado em dólar”, Lula provocou a reação dos republicanos nos Estados Unidos.
O quinto ponto da Declaração de Joanesburgo exige “uma maior representação dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento nas organizações internacionais e nos fóruns multilaterais nos quais desempenham um papel importante”.
Essa é uma demanda do Brics desde seus inícios que, à medida que passa o tempo, se torna cada vez mais vergonhosa para as organizações internacionais do sistema ONU. Nesse mesmo ponto, a declaração pede “o aumento do papel e da participação das mulheres dos mercados emergentes e dos países em desenvolvimento em diferentes níveis de responsabilidade nas organizações internacionais”, o que Lula destacou durante seu primeiro discurso durante sessão plenária aberta da 15ª Cúpula do Brics.
Na mesma linha, e pela primeira vez, a declaração da cúpula do Brics apoiou uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, “para que ele possa responder adequadamente aos desafios globais predominantes e apoiar as aspirações legítimas dos países emergentes e em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina”. Brasil, Índia e África do Sul foram mencionados especificamente em relação ao Conselho. Essa é historicamente uma demanda do Brasil, e mais recentemente dos países africanos.
A valorização das micro e pequenas e sua integração no comércio intra-BRICS também foi enfatizada na declaração, junto à promoção do intercâmbio entre os povos “para melhorar a compreensão mútua, a amizade e a cooperação”, o reconhecimento dos diferentes patamares da economia digital e a criação do Grupo de Trabalho do Brics sobre o tema para enfrentar os desafios, e a determinação de que os ministros das finanças e presidentes dos bancos centrais estudem a questão das moedas, instrumentos e plataformas de pagamento locais para apresentarem um relatório na próxima cúpula, a ser realizada na Rússia em 2024.
Além dos 23 pedidos formais de entrada aos Brics, a participação de mais de 40 países da América Latina, África, Oriente Médio e Ásia na reunião em Joanesburgo foi uma demonstração de que os Brics representam um espaço único em uma conjuntura conturbada, que inclui crescentes demandas de soberania no continente africano e volta dos progressismos ao poder na América Latina, mesmo com disputas acirradas. Em nenhum desses processos há participação da China, que, a diferença de outras potências econômicas, guia sua atuação internacional pelo princípio de não-interferência em assuntos internos de outros países, mencionado anteriormente.
Entender o Brics como um “puxadinho” da China é negar os interesses, a autonomia e a capacidade de fazer política dos países do Sul Global. E é também negar as necessárias mudanças em curso na ordem mundial.