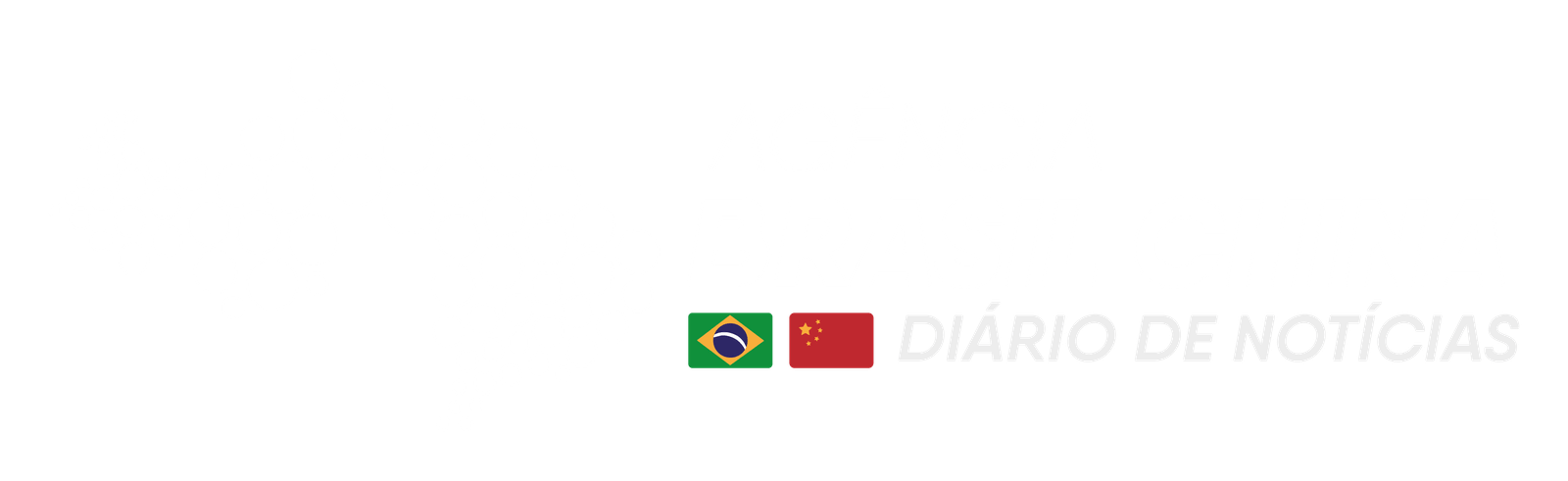A morte de um conselheiro sênior do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) na semana passada causou furor entre autoridades iranianas. Responsável pela coordenação da aliança militar entre a Síria e o Irã, Sayyed Razi Mousavi foi morto em um ataque perpetrado por forças israelenses no sul da Síria, próximo à capital, Damasco.
O governo iraniano prometeu uma retaliação dura a Israel, e as Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que estão prontas para responder à ameaça.
O episódio marcou uma nova escalada de tensão na já volátil situação do Oriente Médio, região abalada pela ofensiva israelense travada na Faixa de Gaza após os ataques do dia 7 de outubro promovidos pelo grupo palestino Hamas e por vários outros confrontos, envolvendo diversos atores.
No último domingo (31), ao menos dez membros do movimento houthi foram mortos em um ataque dos Estados Unidos contra barcos dos militantes do Iêmen no mar Vermelho, onde vêm realizando uma série de ações contra embarcações ligadas a Israel, em resposta aos ataques israelenses contra os palestinos.
Já nesta terça-feira (2), as tensões na região atingiram outro nível após Israel realizar um ataque de drone na capital do Líbano, Beirute, matando um dos líderes do Hamas, Saleh al-Arouri, e outros dois dirigentes do grupo, entre outras pessoas. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, classificou a ação como um crime e acusou Tel Aviv de tentar “arrastar o Líbano para uma nova fase do confronto”.
Em entrevista à Sputnik Brasil, especialistas em relações internacionais analisam se a situação em curso no Oriente Médio, que mobiliza não apenas os países da própria região, mas de diferentes partes do mundo, pode extravasar as fronteiras regionais, resultando em um novo conflito de proporções globais.
Crise reflete disputa entre potências emergentes e forças hegemônicas
Para Beatriz Bissio, professora de política internacional no Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), há dois erros de abordagem na situação em curso na Faixa de Gaza: o primeiro é afirmar que há uma guerra entre Israel e Hamas; o segundo é considerar que o cenário atual se iniciou com os ataques de 7 de outubro.
“Pessoalmente, considero que há em curso, mesmo que muito longe do interesse da mídia mainstream, um enfrentamento de longo prazo entre uma potência ocupante, Israel, e uma população submetida a uma ocupação ilegal, se tomamos em consideração o direito internacional”, explica Bissio.
Ela acrescenta que o direito internacional reconhece que um povo que sofre ocupação tem legítimo direito de reagir a essa ocupação para defender a sua integridade e para, no caso concreto da Palestina, reivindicar perante o mundo aquilo que foi designado pelas Nações Unidas, que é a criação de um Estado palestino independente.
“Portanto, primeiro, considero que devemos falar de um enfrentamento de Israel com o povo palestino, ao qual nega a possibilidade de lutar pela sua soberania, e não uma guerra com o Hamas, mesmo que neste momento esse grupo seja, dentro de um contexto palestino diverso, com vários grupos que inclusive estão na resistência, o que está em evidência.”
Questionada sobre o argumento do direito de defesa apontado por Israel, com apoio dos EUA, como justificativa para a ofensiva na Faixa de Gaza, a especialista diz se tratar de uma interpretação do direito internacional que está sendo invocada de forma capciosa e tendenciosa para confundir a opinião pública.
“Direito à defesa é um direito assegurado, realmente, por tratados internacionais, quando um Estado é agredido por outro Estado. O Estado palestino nunca foi proclamado, não existe. Legalmente, portanto, não há a menor condição de alegar que Israel está exercendo o direito à defesa. Israel é um Estado agressor, que desobedece sistematicamente, há décadas, o direito internacional, com apoio, naturalmente, de potências que já foram coloniais e que têm interesses nessa região [do Oriente Médio] e, concretamente, […] dos Estados Unidos e, na maior parte das vezes, também do Reino Unido, além de outros, que se utilizam falaciosamente dessa argumentação sabendo, porque eles sabem perfeitamente, que não cabe neste momento alegar direito à defesa.”
Em contraponto, ela afirma que o direito dos palestinos de defender sua integridade física e a ter seu Estado reconhecido “está assegurado pelo direito internacional e é absolutamente equiparável ao que foi o entendimento da comunidade internacional quando outros movimentos conquistaram finalmente sua independência política e sua soberania nacional através de luta armada”.
“O caso que me vem à memória é […] o da Argélia. A Frente de Libertação Nacional da Argélia negociou ou tentou negociar com a França por todos os meios. Mas no momento que se convenceu de que a França jamais abandonaria a Argélia se não fosse obrigada a isso, a Frente de Libertação Nacional decidiu optar por tomar as armas e defender os seus direitos”, explica a especialista.
“Acho que [o caso da Argélia] é muito semelhante ao que está acontecendo hoje na Palestina. E não podemos confundir, nesse caso também se trata de um movimento de defesa do direito à soberania e um movimento de liberação nacional que pode ser equiparado, portanto, à Frente de Libertação Nacional da Argélia, como pode ser equiparado à Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, ao movimento popular de libertação de Angola, ao movimento dos vietnamitas para se defender e para reagir, primeiro, à ocupação francesa e, depois, à ocupação norte-americana”, complementa.
Por que os EUA são o principal aliado de Israel?
A professora destaca que Israel não poderia concretizar a ofensiva em curso na Faixa de Gaza, paralelamente a incursões em territórios de outros países, como os recentes ataques ao Líbano e o ataque na Síria que resultou na morte de Mousavi, se não fosse o apoio incondicional do establishment dos Estados Unidos, onde ela afirma haver núcleos políticos, militares e financeiros que apoiam Israel praticamente desde a criação do país, por vários motivos.
“Um dos motivos, muito relevante, é o peso do lobby de Israel na política dos EUA e, concretamente, nas eleições em todos os níveis e na eleição presidencial. Um lobby que tem um peso decisivo, tem sido um elemento-chave, um elemento sem o qual Israel não poderia ter a atitude belicista, genocida até, podemos falar, pela forma como está procedendo atualmente em Gaza. Não poderia ter não fossem os EUA, que freiam no Conselho de Segurança [das Nações Unidas] qualquer condenação explícita a essa política de terra arrasada com relação aos palestinos.”
Beatriz destaca que “Israel não poderia fazer o que está fazendo não fossem o suporte e o apoio material em relação a essa guerra” por parte dos EUA.
“Material em armamento, em assessoria militar e também em financiamento. Sabemos que a maior parte da ajuda financeira dos Estados Unidos anualmente vai para Israel.”
Podemos chegar a uma terceira guerra mundial?
Sobre o temor de que a situação no Oriente Médio possa extravasar as fronteiras da região, culminando em uma terceira guerra mundial, Beatriz Bissio diz considerar pouco provável que ocorra um novo conflito global nos moldes da Primeira e da Segunda Guerras.
“As guerras mundiais do século XX, não acredito que tenham uma nova versão no século XXI tal qual elas foram, ou seja, de uma formalização de um estado de guerra, com o momento inclusive que essa guerra se declara vencida por uma das partes e, portanto, o perdedor reconhecendo que foi derrotado. Esse modelo, eu não acredito que estejamos preparados ou que venha a acontecer novamente agora no século XXI”, explica a professora.
Porém ela afirma que “isso não significa que não estejamos com um cenário internacional altamente marcado por guerras, por conflitos, nos quais, como sempre aconteceu no século XX, o maior número de vítimas é entre os civis e com perspectivas de um agravamento das tensões internacionais”.
Oriente Médio é palco de guerras por procuração?
Questionada sobre se o Oriente Médio está sendo usado como território para disputas por procuração entre potências, Beatriz afirma que de fato há uma disputa entre dois polos em curso: o das potências ocidentais que sempre exerceram um poder hegemônico, e o das potências que vêm contestando essa hegemonia.
“Esse pano de fundo desse confronto, que alguns na mídia têm chamado de ‘nova Guerra Fria’, tem que ser levado em consideração para entender o que está acontecendo no Oriente Médio. Esse é um dado relevante para entender não somente o conflito no Oriente Médio, mas também o conflito na Ucrânia e outros também que pipocam pelo mundo, essa queda de braço entre um Ocidente que exerceu e ainda exerce um poder hegemônico, um poder de polícia, através da OTAN [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e de outros instrumentos no mundo, versus potências que poderíamos, por exemplo, citar como que estão nucleadas no BRICS, que clamam por uma alternativa de um cenário mundial mais diverso, mais plural, sem um hegemon exclusivo ou um Ocidente controlando o resto do mundo.”
Ela afirma, no entanto, que não se trata exatamente de uma nova Guerra Fria, “no sentido de que não há dois projetos, como eram o projeto socialista, o projeto capitalista, que estejam se confrontando”.
“Nesse sentido, talvez não seja a melhor metáfora falar em uma nova Guerra Fria ou Guerra Fria 2.0, mas serve para entender que há um confronto, sim, a nível internacional, onde estão enfrentados, de um lado, os que querem manter o seu poder hegemônico e, de outro lado, os que entram e tentam se fortalecer para questionar esse poder hegemônico”, argumenta.
Sobre a maior cobertura dada pela mídia ao conflito israelense, enquanto outros conflitos igualmente sangrentos e violentos ficam fora do radar dos noticiários, como o do Iêmen, Beatriz afirma que isso ocorre porque nesses conflitos paralelos “aparentemente não estariam em jogo os atores mais relevantes do cenário internacional”.
“Mas eu digo aparentemente. Era um conflito [do Iêmen] em que estavam, de um lado, a Arábia Saudita e, do outro lado, os houthis, que são aliados do Irã. Esse confronto entre Irã e Arábia Saudita, no entanto, faz parte desse confronto mais abrangente entre o Ocidente hegemônico e essas novas potências que almejam uma nova configuração internacional.”
Ela acrescenta que “há indicadores de uma reestruturação no Oriente Médio” em processo, na qual “tanto a Arábia Saudita quanto o Irã estão se recolocando como peças de um tabuleiro de xadrez”, analisando quais seriam as melhores alianças e formas de incidência no cenário internacional.
“Nesse sentido, o conflito do Iêmen, por justamente estar em um momento e em uma conjuntura de grande transformação, no meu entendimento, do que são as alianças tradicionais no Oriente Médio, ele está meio que como congelado na imprensa, que ainda não está sabendo se situar dentro dessa nova configuração, que, de fato, é um processo de reacomodação.”
Bissio afirma que agora, em 2024, essa reacomodação de peças estará mais evidente, em parte por conta da consolidação da expansão do BRICS.
“Acho que em 2024, quando o BRICS começar a mostrar essa nova configuração, que foi definida e que começa agora no início de janeiro, essas novas configurações passarão a estar mais evidentes para o resto do mundo, e a mídia voltará então a se reposicionar. A mídia mainstream, que sempre é muito alinhada com a geopolítica dos interesses dos Estados Unidos, certamente vai se reconfigurar.”
O que dificulta a paz entre palestinos e israelenses?
Ainda não há no horizonte, neste momento, nenhuma liderança, seja eclesiástica ou política, dentro ou fora das Nações Unidas, com poder e influência para “convocar uma grande conferência internacional de paz, que seria o que desejam todos os que saem às manifestações, cada vez mais numerosas no mundo”, diz a analista sobre o conflito em Gaza.
Nesse recorte, em especial, ela afirma que essa negociação passa, inevitavelmente, pela saída de Israel dos territórios palestinos ocupados.
“Israel tem que sair dos territórios ocupados ilegalmente e tem, dessa forma, que negociar o futuro da convivência com o povo palestino, que terá que ter seus direitos respeitados”, explica. Se a solução de dois Estados inicialmente pensada quando da partilha da Palestina não for mais viável, “que consensualmente se chegue a outro tipo de solução, que poderá ser um Estado em que todos os cidadãos, independentemente da sua religião, possam ter seus direitos assegurados”, defende a professora, destacando que, seja como for, “Israel tem que desocupar os territórios que ocupa ilegalmente e sobre os quais não tem uma soberania no marco do respeito aos tratados internacionais”.
EUA e Israel, uma aliança incontestável
Os EUA sempre tiveram uma aliança incondicional com Israel, baseada em laços que se estreitaram após o 11 de Setembro, como aponta Isabela Agostinelli, doutora em relações internacionais pelo Programa de Pós-Graduação San Tiago Dantas, com tese sobre colonialismo e violência israelense na Faixa de Gaza, integrante do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais (GECI), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-INEU).
Agostinelli, que afirma considerar os ataques de 7 de outubro como estopim para a situação atual no Oriente Médio, destaca que “os EUA têm apoiado as ações israelenses contra a população de Gaza de forma incontestável”.
“Desde pelo menos o final dos anos 1960, EUA e Israel têm consolidado uma ‘aliança especial’. A partir da vitória de Israel na Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, que resultou na ocupação militar israelense da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, os EUA passaram a identificar o Estado israelense como um grande parceiro estratégico no Oriente Médio. Essas relações se tornaram mais estreitas nos anos 1990, com o fim da Guerra Fria, e mais especiais ainda a partir de 2001, após os ataques terroristas às Torres Gêmeas no 11 de Setembro e o início da guerra global ao terror no Oriente Médio, liderada pelos EUA e apoiada por Israel”, explica.
Ela complementa afirmando que “tanto EUA quanto Israel compartilham experiências de colonialismo por povoamento e se assemelham, em termos de valores, na chamada ‘democracia de mercado ocidental'”.
“Além disso, em termos de política doméstica dos EUA, é importante ressaltar o forte papel do lobby sionista, conforme exploram os pesquisadores renomados John Mearsheimer e Stephen Walt em ‘The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy’ [‘O lobby de Israel e a política externa dos EUA’, em tradução livre]. Por fim, vale mencionar as relações materiais comerciais entre Israel e EUA, que são calcadas na indústria militar, grande ativo de ambos os países.”
Ela afirma, no entanto, que o capital político de Israel para manter conflitos simultâneos está bem enfraquecido, “pois uma parte considerável da população israelense não apoia as ações de Israel em Gaza”.
“A Síria, inclusive, teria pouca importância estratégica nesse processo. O máximo que poderia acontecer seria uma guerra com o Hezbollah, mas também acredito ser pouco provável, pois Israel teria que arcar com custos muito maiores em relação aos custos da ‘guerra’ contra o Hamas, visto que o Hezbollah é um grupo político mais organizado, tem função no governo libanês e tem um poderio militar muito forte, com capacidade de enfrentar o Exército israelense. Além disso, o Hezbollah recebe apoio do Irã, grande fornecedor de armas para o grupo libanês”, afirma Isabela.
Oriente Médio, uma região de conflitos constantes?
Entre as consequências dos conflitos atualmente em curso no mundo, a especialista afirma considerar que “o Iêmen enfrenta uma das piores, senão a pior crise humanitária dos últimos anos”.
Ela acredita que a baixa cobertura do conflito reflete uma visão preconceituosa de que a região é naturalmente violenta e inclinada a confrontos armados.
“O fato de a guerra no Iêmen não gerar cobertura internacional responde às perspectivas orientalistas de que o que acontece no Oriente Médio é ‘normal’, de que aquela região está fadada ao conflito contínuo e de que a sua população é bárbara e não merecedora de comoção. Por muito tempo a situação dos palestinos também esteve sob essa ótica, mas o 7 de outubro, infelizmente por motivos tristes, trouxe à tona novamente a questão palestina, transformando-a em pauta internacional. O Iêmen e tantos outros conflitos, como no Sudão, ainda permanecem na ignorância de boa parte da população mundial.”
A especialista afirma que “o Oriente Médio tem um histórico de ser um palco de disputas das relações de poder entre as grandes potências, seja via guerras por procuração ou até mesmo via relações políticas e comerciais”. Porém ela afirma que na conjuntura atual há um elemento novo: a participação da China como mediadora.
“O que temos testemunhado recentemente é um avanço do protagonismo da China como mediadora de negociações para normalização de relações entre países anteriormente antagônicos, como foi o caso da mediação para os acordos entre Arábia Saudita e Irã. A China também tem se articulado com outras potências regionais a fim de buscar um possível novo acordo de paz entre palestinos e israelenses, embora no curto prazo não possamos fazer tantas previsões de como e quanto isso poderá impactar a guerra em curso.”
Isabela Agostinelli também afirma ser improvável que a situação atual no Oriente Médio escale para uma terceira guerra mundial.
“Nem a guerra da Ucrânia evoluiu para tanto. Alguns motivos são: o abandono político da questão palestina, com pouquíssimos países apoiando a libertação nacional; a falta de interesse de outros países em se envolverem de forma armada no conflito; e a atuação da ONU. Mesmo com as suas falhas, a ONU tem sido um espaço importante para a busca de soluções políticas e diplomáticas”, conclui a especialista.