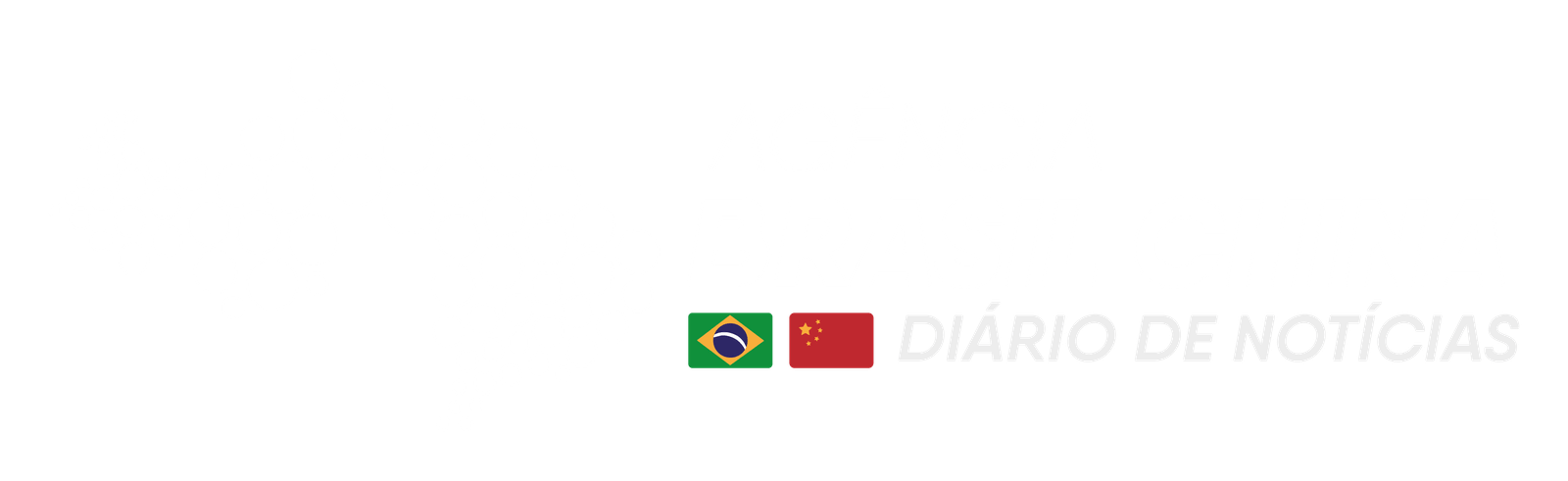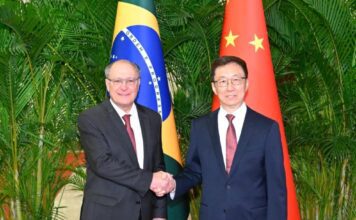No fim desta terça-feira (17), tivemos o dia mais violento na série de ataques israelenses à Faixa de Gaza, algo que alguns especialistas, a exemplo do pesquisador Raz Segal, definem como um genocídio contra os palestinos. Na terça, o exército israelense bombardeou uma escola da Unrwa (a Agência da ONU de Assistência a Refugiados palestinos), matando seis pessoas, e, na ação mais catastrófica desde 7 de outubro, tivemos a destruição da Hospital Al-Ahli, com a morte de 500 pessoas. O exército israelense negou o ataque, apontando para um possível acidente com um míssil palestino.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) soltou um comunicado na própria noite de terça (17): “A OMS pede pela proteção imediata de civis e do cuidado à saúde. As ordens de evacuação devem ser revertidas. A lei internacional humanitária deve ser obedecida, o que significa que o cuidado à saúde deve ser protegido e nunca alvejado”. No último sábado (14), sob o risco de ter que evacuar hospitais por ordens do exército israelense, a OMS disse que isso seria “uma sentença de morte para os doentes e feridos”.
No último informe da ONU, dado no fim da terça (17), foram 3.000 palestinos mortos, 12.500 feridos. A conta do lado israelense da ação do dia 7 de outubro foi de 1.300 mortos e de 4.229 feridos. O ataque do Hamas ao sul de Israel naquele sábado (14) colocava o mundo em choque por duas razões centrais.
Uma casa ainda dividida?
O ataque ao hospital em Gaza teve efeitos na Cisjordânia. Logo que a notícia se espalhou, as ruas de Ramallah, a capital da Autoridade Nacional Palestina (ANP) na Cisjordânia ocupada, encheram-se de protestantes, que entraram em choque com a polícia palestina. Os palestinos protestavam contra o ataque israelense e a atitude de Mahmoud Abbas, presidente da ANP, depois dos ataques do Hamas.
Em texto no domingo (15), a agência WAFA, oficial da ANP, reportava que, em chamada com o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, Abbas teria dito que “as políticas e ações do Hamas não representam o povo palestino”. Logo depois, esse trecho da conversa foi apagado.
Na terça (17), Abbas estava em Amã, capital da Jordânia, onde encontraria nesta quarta (18) o presidente Joe Biden, dos Estados Unidos. O mandatário estadunidense voava na noite de terça para quarta para encontrar Netanyahu, em Tel Aviv. Em seguida, encontraria, em Amã, o presidente egípcio, Abdel Fattah el Sisi; o monarca jordaniano, o rei Abdullah; e o presidente da ANP.
No entanto, assim que a realidade dos protestos em Ramallah demonstrou-se inegável, Abbas tomou o caminho de volta aos Territórios Ocupados. Logo depois, o governo jordaniano informou que o encontro com Biden havia sido cancelado e que seria marcado em momento posterior.
Osama Hamdan, líder do Hamas, disse em entrevista à AlJazeera, na noite de terça (17), que acreditava que o ataque podia ser uma oportunidade para uma reaproximação entre o Hamas e o Fatah.
O corpo politico palestino está dividido em dois: considerando que o regime israelense controla todo o território da Palestina histórica (Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza), o Hamas governa alguns aspectos da vida palestina em Gaza, o Fatah, por meio da ANP, governa alguns aspectos da vida palestina na Cisjordânia. Desde 2007, depois de uma guerra civil entre os dois grupos, cada um se estabeleceu nos territórios em que prevaleciam.
Os dois maiores movimentos se diferenciam em dois aspectos centrais: na adesão aos mecanismos do processo de Oslo (o Fatah, de Abbas ainda adere aos mecanismos políticos criados pelo processo, entre eles a cooperação de segurança com Israel) e na manutenção da luta armada (o Hamas não abre mão do uso da resistência violenta).
Genocídio?
O ataque ao Al-Ahli se junta a outras atitudes de Israel que podem configurar crime de genocídio. Raz Segal, pesquisador da Universidade de Stockton, estudioso do Holocausto e dedicado à investigação do conceito do genocídio, já no dia 13 de outubro argumentava que as ações de Israel eram “um modelo ideal (textbook) de genocídio”. Naquele dia, o exército de Israel soltou comunicado impondo à população do norte de Gaza que fosse para o sul do território. O problema para Segal é que esse movimento podia ser o primeiro passo de uma campanha israelense para “deslocar palestinos de Gaza – e potencialmente os expulsar de vez para o Egito”.
Ele também argumentava que dos cinco critérios para definir a ocorrência de genocídio, Israel tinha completado três: matar membros do grupo; causar dano sério corporal ou mental a membros desse grupo; deliberadamente infligir sobre o grupo condições de vida calculadas para trazer a destruição física de seu todo ou de parte”.
Diante dos contínuos bombardeios israelenses sobre Gaza, no dia 15, Ione Borrela, ministra dos Direitos Sociais da Espanha, twittou: “Diante da tentativa do genocídio que está levando a cabo o Estado de Israel em Gaza, propomos que o Governo da Espanha leve (Benjamin) Netanyahu diante da Corte Penal Internacional por crimes de guerra”.
Há um precedente de caso. Em 1998, o ditador Augusto Pinochet foi levado à Espanha para ser processado. Isso porque vítimas que não conseguiam levar adiante um caso por crimes contra a humanidade no Chile, levaram as acusações para a Espanha, onde foram aceitas segundo o “princípio da ‘jurisdição universal’ sobre atrocidades aos direitos humanos”, explica texto no site do Human Rights Watch.