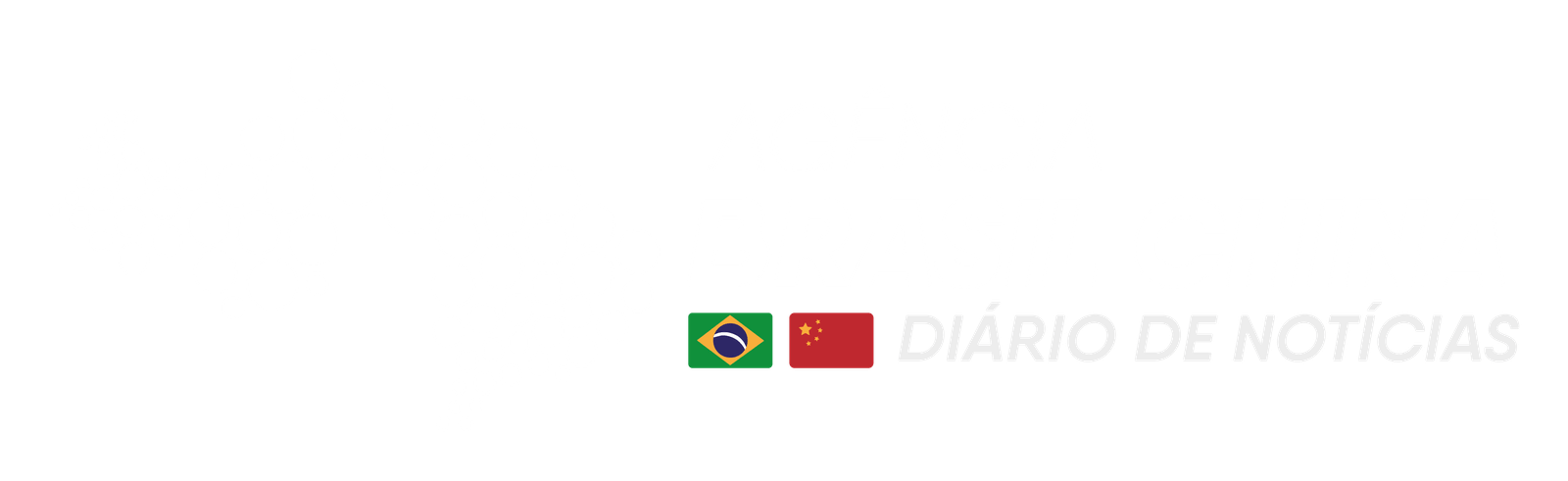Nos últimos anos observamos uma onda de demissões nos cargos de diversidade e inclusão, especialmente em Big Techs como Twitter, Amazon, Meta e Redfin. De acordo com o Instituto de Identidades Brasil (IDBR), em pesquisa realizada neste ano, essas demissões, embora chamem a atenção, não refletem necessariamente o cenário brasileiro, onde há uma tendência de se trabalhar a diversidade e inclusão de maneira mais integrada e interseccional. O relatório do IDBR destaca que não podemos generalizar o cenário estadunidense e que muitas empresas no Brasil estão apenas começando a implementar essas ações agora, em um processo ainda incipiente. Um dado interessante apontado pelo estudo é a crescente ligação dessa pauta com práticas ambientais.
Diante desse cenário, em que as medidas de diversidade e inclusão ainda nem sequer foram de fato implementadas adequadamente, surge a questão: para quem, afinal, será esse ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança)? Essa sigla, que deveria representar o comprometimento das empresas com questões ambientais, sociais e de governança, parece ter se tornado mais uma grande pauta discursiva do que uma prática transformadora. Em pleno 2024, a necessidade de repensar a diversidade dentro das corporações deveria ser uma questão já superada, consolidada como parte integral da estrutura empresarial. No entanto, o que presenciamos atualmente, de forma mais ampla, é uma retração nos investimentos nessas áreas, revelando o quanto essas pautas ainda são tratadas de maneira superficial.
Diante disso, até que ponto os investimentos em diversidade e inclusão têm realmente promovido mudanças estruturais? Com frequência, esses departamentos são vistos como meros apêndices nas empresas, recebendo orçamentos limitados e pouca autonomia para propor inovações e tomar decisões. Tal prática expõe a inconsistência das empresas em sua pretensa busca por um ambiente corporativo mais plural. Para os consumidores, essa “diversidade” muitas vezes não se reflete em uma visão abrangente, não é considerado a pluralidade dos próprios consumidores e suas necessidades, muito menos o impacto das marcas nos territórios onde estão inseridas.
Além disso, setores empresariais como a mineração, agricultura e pecuária, cujas atividades impactam diretamente o meio ambiente e as comunidades ao redor, revelam baixíssima consideração e compreensão do que de fato são esses territórios. Nesse cenário, o ESG, que deveria ser um guia para práticas responsáveis e sustentáveis, corre o risco de ser reduzido a uma moda de mercado, sem se comprometer verdadeiramente com as mudanças sociais necessárias. A redução de cargos voltados para diversidade e inclusão reflete uma diminuição direta no impacto que essas iniciativas podem gerar. Isso nos leva a perguntar: não estaríamos testemunhando a falácia capitalista da “teoria da pirâmide”, onde a inclusão de algumas poucas pessoas em posições de destaque deveria, supostamente, repercutir em toda a estrutura, mas de fato não o faz?
O que parece ter trazido mudanças mais efetivas para as comunidades e seus territórios, e têm se intensificado nos últimos anos em nosso país, são os protocolos de consulta livre, prévia e informada. Esses protocolos, realizados de forma horizontal, permitem que as comunidades definam a maneira pela qual desejam ser consultadas, baseando-se em seus próprios pontos de vista, defendendo seus territórios, conhecimentos tradicionais e ancestralidade. Essa dinâmica impõe às empresas a necessidade de lidar não apenas com o fator racial, mas também com o meio ambiente, de forma mais respeitosa, já que os povos tradicionais mantêm uma relação única e sustentada com a natureza.
A defesa dessa biointeração única é, de fato, uma forma disruptiva de exigir mudanças. Apoiar as comunidades e atuar na mitigação dos danos causados por empresas revela-se uma das poucas posturas que, de fato, podem gerar um impacto positivo no planeta, já que os territórios dos povos tradicionais são justamente os que mais preservam os biomas. Confluir com os saberes tradicionais pode trazer frutos promissores para empresas que querem praticar o ESG, integrando povos racializados e adotando novas práticas que substituam ações predatórias e insustentáveis em relação ao meio ambiente.
Entretanto, é justamente nessa tentativa que muitas vezes caímos no fenômeno do greenwashing, com o mercado correndo para apenas aparentar ser verde e inclusivo. Um exemplo claro disso é a crítica contundente feita por lideranças indígenas ao mercado de créditos de carbono, como a orientação da Funai para que as organizações indígenas não participassem de negociações envolvendo a comercialização de créditos em terras indígenas. Muitas lideranças também se manifestaram alertando que “nossas florestas não estão à venda”. Apesar disso, empresas como a Amazon já iniciaram tratativas envolvendo créditos de carbono, muitas vezes sem a devida consulta às comunidades originárias de tal território, como evidenciado no Pará. Essas negociações, conduzidas sem ouvir os povos originários, reforçam a necessidade de repensar o ESG e suas práticas, que, longe de atender às reais demandas das comunidades, perpetuam a lógica capitalista de exploração dos territórios sem consideração pelas vidas que neles habitam.
Para que o ESG seja uma ferramenta de transformação, é necessário pensar muito além das métricas ambientais, considerando também as populações que estão dentro do território. O ser humano é parte integral do ambiente, e desconsiderar a qualidade de vida e a cosmopolítica das pessoas impactadas pelos empreendimentos é desconsiderar o próprio cerne do ESG. A pergunta, então, permanece: ESG para quem? Se não pensarmos nas populações periféricas e tradicionais, aquelas mais afetadas pela injustiça climática, não estaremos praticando uma responsabilidade social, mas apenas perpetuando velhas práticas sob um novo disfarce.
*Jade Alcântara Lobo é pesquisadora, ativista e escritora baiana, doutoranda em Antropologia Social na UFSC e certificada pelo Afro-Latin American Research Institute at Harvard University. Mestre em Antropologia pela UFBA e graduada pela UNILA, possui experiência em relações étnico-raciais, povos tradicionais e cosmopolíticas afroindígenas. Atua como perita judicial, é a autora do livro *”Para Além da Imigração Haitiana: Racismo e Patriarcado como Sistema Internacional”*, criadora e editora da *Revista Odù*, e foi coordenadora de pesquisa no IDAFRO.
**Este é um artigo de opinião e não necessariamente expressa a linha editorial do Brasil de Fato.