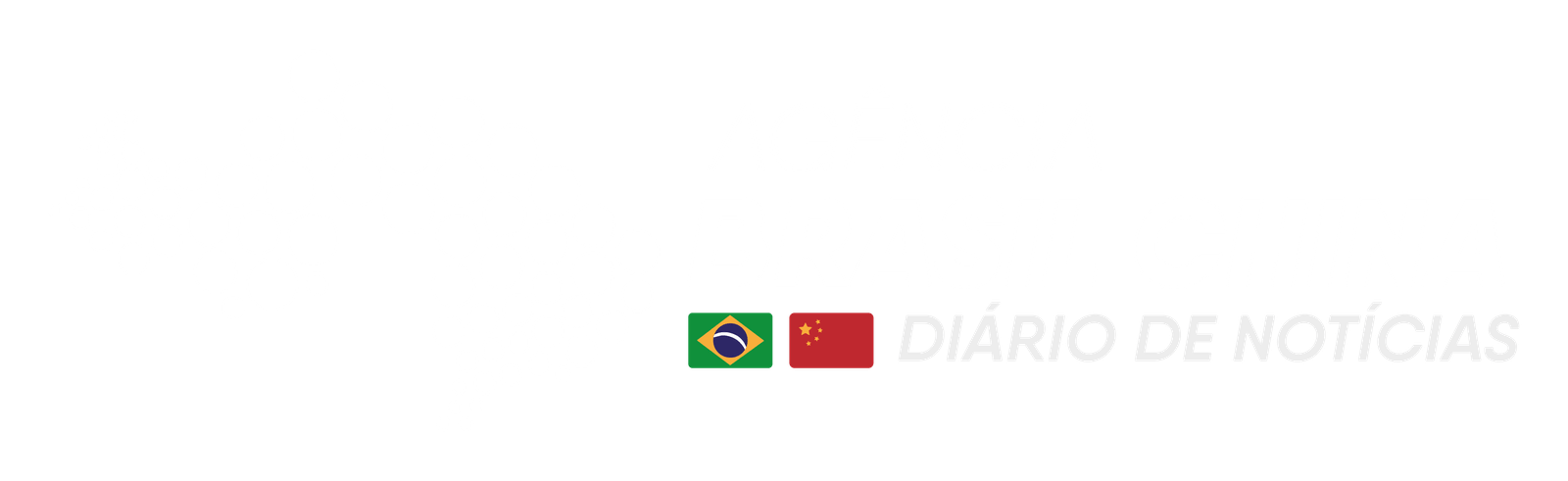Não faltou esforço de ambas as partes para fazer da viagem de Lula para a República Popular da China um momento marcante na relação com o país asiático. Vários analistas classificaram a agenda do presidente brasileiro como uma “retomada”, “renovação” e até como uma “refundação” das relações bilaterais. Ao final, qual é a aposta do Brasil e da China?
Para fazermos essa análise, podemos trabalhar com três dimensões. A primeira é a relação bilateral, dominada pela crescente importância da China como parceiro comercial, investidor e financiador. A segunda é a coordenação e parceria conjunta em iniciativas internacionais, que ganha um peso maior no contexto da rivalidade com os EUA, país dividido em muitos assuntos, mas unido na convicção que a reprodução da sua hegemonia depende de conter a ascensão chinesa. E, terceiro, a dimensão das lições que cada um pode tirar da experiência do outro. Considerando que foi a China que conseguiu superar sua condição periférica, não surpreende que o interesse nesse âmbito esteja mais do lado de atores brasileiros.
Qual é o problema no âmbito das relações comerciais e econômicas bilaterais? A história não é de um crescente sucesso passando por todos os governos desde que o Brasil firmou, como primeiro país do mundo, um Acordo de Parceria Estratégica com a China em 1993 no governo Itamar Franco?
Foi nos governos Lula que, a partir de meados da década 2000, que as duas nações montaram uma estrutura institucional que o Brasil não tem com qualquer outro parceiro fora do Mercosul. Em 2004, criou-se a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban), encabeçada pelos vice-presidentes dos dois Estados, para identificar oportunidades de parcerias. Houve uma forte ampliação das relações econômicas, sobretudo no contexto da superação da crise global de 2008, e em 2012 o Brasil e a China elevaram a sua Parceria Estratégica ao nível de Parceria Estratégica Global.
A Cosban ganhou um dinamismo forte na década de 2010, com uma série de encontros de alto nível que resultaram em Planos Conjuntos ambiciosos, que nem sempre estiveram de acordo com as reais condições para a sua materialização, mas sinalizando a vontade de ampliar a parceria.
Com relação ao comércio, há duas características constantes: a existência de um superávit devido à exportação de matérias primas que esconde o déficit na manufatura e uma concentração da pauta exportadora em três produtos, que correspondem a quase 80% do total das exportações ao longo dos anos (soja, petróleo, minério de ferro).
O Brasil se tornou, também, na segunda década do século 21, um dos cinco principais destinos de investimentos produtivos chineses, chamado em economês de Investimentos Externos Diretos (IED). Dados do governo brasileiro, referentes ao período entre 2003 e o 3º trimestre de 2019, mostraram que o total de IED da China foi de US$ 80,5 bilhões. Também nessa modalidade há uma concentração em grandes projetos, sobretudo na área de energia (petróleo) e eletricidade. Nos dois casos, as estatais chinesas se posicionaram em poucos anos como um dos principais players no país. Para a State Grid e a CTG, o Brasil é o principal destino de investimentos externos e prioridade das suas estratégias de internacionalização.
Contrário ao que se pode imaginar, essa relação continuou avançando depois do golpe contra a presidenta Dilma em 2016. Durante o governo Bolsonaro, o comércio aumentou em 20% e o Brasil continuou atrativo como um país de destaque para investimentos de empresas chinesas. Em 2021, o Brasil se tornou o principal destino do investimento externo chinês no mundo. Ao final, não importa se o gato é preto ou branco, desde que exporta soja não processada, petróleo bruto e minério de ferro e não discrimina o capital chinês.
Querendo ou não, a visita do presidente Lula às instalações de Huawei repetiu a visita do Vice-presidente Hamilton Mourão em maio de 2019, quando se encontrou também com o presidente-diretor da Huawei e, contrariando a pressão do governo Trump, assegura seus interlocutores chineses que o Brasil não iria discriminar a tecnologia chinesa nas licitações do 5G. E assim foi. O Brasil foi o primeiro país onde a Huawei começou a operar na América Latina, em 1998, no governo FHC, e a empresa está envolvida e comprometida com a implementação do 5G no Brasil, atuando também no mercado de energia solar.
De um lado, a China costumava avaliar se tratar de um exemplo de diplomacia de ganha-ganha (win-win). Uma relação de complementaridade. Ficou evidente que há por parte da China uma estratégia clara visando a garantia de matérias primas e exploração de mercados nos quais suas empresas podem ter uma vantagem competitiva. Mas, as exportações de matérias primas garantem para o Brasil um superávit muito grande e as importações de manufatura significaram acesso a produtos mais baratos. Para se ter uma ideia, em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, o Brasil exportou para China US$ 91,3 bilhões contra US$ 61,7 bilhões de importações. Ou seja, um superávit de quase US$ 30 bilhões em uma América Latina onde a grande maioria dos países é deficitário com o país asiático. No mundo todo só Coreia do Sul, Austrália e Taiwan têm um superávit maior em sua relação comercial com a China.
E do lado do Brasil vários setores, principalmente, mas não só, os exportadores de matérias primas, se enriquecerem com esse comércio. Por que então a necessidade de “refundar” ou “renovar” se o time está ganhando? Aliás, essa era a mensagem que o setor de agroexportador queria passar para o Lula: está indo tudo bem, só fazer mais do mesmo e ampliar para outros setores de carnes e produtos agrícolas.
A resposta está numa promessa central do governo Lula: uma nova industrialização, dialogando com a quarta revolução tecnológica em curso e com uma economia ambientalmente sustentável. Para isso é preciso muito mais do que “mais do mesmo”, é preciso garantir que os investimentos tragam parcerias e transferências tecnológicas. Que a China seja convidada para retomar o esforço brasileiro, interrompido pelo golpe, de criar e fortalecer uma base industrial-tecnológica endógena. Que a BYD, maior empresa no ramo de carros elétricos do mundo, não só monte uma fábrica (no caso na Bahia), mas desenvolva tecnologia no Brasil, envolvendo instituições de pesquisa, universidades e fornecedores brasileiros. Que este investimento seja inserido numa política nacional de eletrificação do transporte. E com relação às exportações do agronegócio, em particular a soja, que a China seja parceira em garantir uma produção sustentável com cuidado com a terra e água a longo prazo.
Ou seja, não é mais somente comprar painéis solares e equipamentos para gerar energia eólica com os dólares da exportação de matéria prima, mas desenvolver conjuntamente novas tecnologias para energia limpa no Brasil, fortalecendo empresas e centros de pesquisa nacionais. Isso significa ampliar o leque de atores do lado brasileiro que participam da relação com a China e mudar o olhar do país asiático para o Brasil.
O governo Lula entende que o Brasil nunca vai superar sua condição periférica, a pobreza e o emprego precário de milhões ao se acomodar em ser uma grande fazenda com mineração? Então não se pode concordar que “está tudo bem” e falar em “complementariedade”. Inclusive porque o “win-win” é no caso do Brasil um ganho para um grupo pequeno da sociedade que concentra renda, e além de tudo na sua grande maioria não está interessado no desenvolvimento nacional. Por isso tudo é preciso repactuar a relação com a China. Mas a China estaria disposta?
Tudo indica que sim. Sobretudo se analisarmos a relação a partir da dimensão de parcerias globais. É justamente nessa área que a relação perdeu seu dinamismo a partir do golpe contra a presidenta Dilma, com retrocessos nos Brics e nas articulações conjuntas no G20 e nas Nações Unidas.
E o momento hoje é outro do que em 2008, quando o Brics foi criado. A postura dos EUA com relação à China é cada vez mais hostil e, a partir de meados da década de 2010, o tom mudou também na Europa, embora de forma mais ameno. As sanções econômicas contra exportações de tecnologia ou o fechamento de Institutos Confúcio em universidades estadunidenses e europeus são exemplos.
Enquanto isso, a China aposta em sua ascensão como um país líder do mundo em desenvolvimento ou do Sul Global, oferecendo alternativas práticas para os países e com isso disputando influência com os EUA. A diplomacia da vacina, sobretudo no início da pandemia covid-19, é um bom exemplo disso.
O que o Brasil pode oferecer à China é o reconhecimento e legitimação do multilateralismo com características chinesas. Além da posição estratégica como grande país em desenvolvimento no continente americano, o Brasil dispõe hoje de um outro ativo muito valorizado pela China: uma liderança experiente e carismática com capacidade excepcional de dialogar com os mais diversas setores da comunidade internacional.
Uma alternativa à hegemonia estadunidense liderada pela China se torna muito mais forte e influente se contar com a participação do Brasil e em particular com o Brasil de Lula. Os dois governos têm hoje compromissos compartilhados para lançar, por exemplo, uma aliança pela erradicação da fome e da pobreza ou uma articulação do Sul Global no combate às crises climáticas. Esse é o Brasil que não existiu como opção para a China nos últimos seis anos. A nomeação de Dilma para a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido como Banco dos Brics, é uma valorização da liderança de Dilma, mas ao mesmo tempo do próprio NBD, que é sediado em Xangai.
A visita do Lula nesse sentido foi o começo dessa repactuação. E embora nessa lógica a China teria recebido muito bem uma adesão à Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI, na sigla inglesa), isso faz parte do processo. Um processo que deve dialogar com a estratégia de uma nova industrialização e com o processo de integração latino-americano, outra prioridade brasileira para a qual espera encontrar na China uma parceira e não um fator desagregador.
Agora, tudo isso pressupõe que o Brasil tenha a capacidade de neutralizar a pressão dos EUA, que tende a aumentar com o avanço dessa repactuação com os chineses e com os esforços nacionais por uma nova industrialização.
Essa é tarefa única do governo e da sociedade brasileira, que encontrará resistência de parte da classe plutocrata internamente. Aqui entra a terceira dimensão mencionada: estudar a experiência chinesa nas mais diversas frentes, de cidades inteligentes até o sistema de inovação. Com todas as diferenças existentes entre a estrutura política e história do país, há muito que pode inspirar e orientar os esforços brasileiros. Intercâmbios muito bem direcionados com instituições de pesquisa e universidades são extremamente válidos, como também ampliar o leque de atores empresariais, governamentais e acadêmicos envolvidos.
Em nada essa repactuação da relação com a China prejudica ou deveria prejudicar a busca de parcerias, igualmente benéficas para o Brasil, com outros países ou regiões. Pelo contrário, tudo indica que a movimentação do governo brasileiro já estimulou outros a oferecer alternativas. A título de exemplo: dois eventos ocorridos antes da viagem do Lula à China. Em 15 de março, a Comissão de Relações Exteriores do Senado estadunidense convidou o executivo para discutir o futuro das relações entre os EUA e o Brasil. E na semana anterior, no dia 8 de março, a alta representante para o comércio dos EUA, Katherine Tai, fez uma visita de trabalho ao Brasil para discutir possibilidades do Brasil ser incluído nos esforços de realocação das cadeias produtivas de semicondutores.
As oportunidades estão na mesa, tudo vai depender de como o governo e a sociedade brasileira conseguirão aproveitar desse momento da política interna e externa.
* Giorgio Romano Schutte é Professor Associado em Relações Internacionais e Economia da UFABC, membro do Observatório da Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil (OPEB). Autor do livro “Oásis para o Capital. A dinâmica dos investimentos produtivos chineses no Brasil” (Editora Appris).